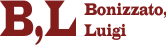Poder Regulamentar da Administração Pública e Agências Reguladoras: a Resolução Normativa nº 433, de 28 de junho de 2018.
Reflexões AtuaisDe acordo com o que se estuda e aprende a partir de clássicas teorias do Direito Administrativo, o administrador público possui deveres, atribuições, prerrogativas e poderes. Quanto a estes últimos, destacam-se o poder vinculado e o poder discricionário, em relação aos quais modernas e contemporâneas teorias trazem novos conceitos e possibilidades, sobretudo fundadas em ideias de maior eficiência para a Administração Pública brasileira. Mas, para além destes poderes apenas citados, outros também possuem relevância e, igualmente, destacam-se na estrutura administrativa brasileira, tais como o disciplinar, o hierárquico e, entre outros, o chamado poder regulamentar. Segundo este denominado poder regulamentar, pode o administrador público, com foco normalmente voltado aos chefes dos Poderes Executivos nacionais, regulamentar leis, a fim de a elas conferir maior concretude. Conforme ditames básicos do ordenamento jurídico brasileiro, cabe à lei – e somente a ela – inovar e, portanto, criar novos direitos e obrigações no país. Mas, paralelamente, devem as leis ser caracterizadas pela abstração, a fim de que não seja desrespeitado, principalmente, o princípio da igualdade. Devem as leis ser voltadas e direcionadas a uma coletividade, a um grupo mínimo de pessoas, de modo a que não se desvincule de seus fins básicos. Portanto, o exercício do poder regulamentar, comumente refletido no instrumento chamado decreto regulamentar, tem a finalidade não de inovar, mas de proporcionar a concretização e aplicabilidade de leis anteriormente criadas. Se estas considerações são consideradas vinculadas a clássicos entendimentos sobre o próprio agir administrativo, mormente ligado à Administração Pública direta, de acordo com o supra salientado neste breve texto, passa-se a também, a partir de agora, conciliá-las com novas esferas da contemporânea realidade administrativa nacional. Principalmente no final da década de 90 do século findo, assim como início da primeira década deste século, importou o Brasil modelo preponderantemente utilizado nos Estados Unidos da América (EUA), ligado ao por lá denominado Estado Administrativo e pautado na figura das conhecidas Agências Reguladoras. E, entre várias atribuições e características, tais agências, instauradas no país, possuem um poder também normativo. Entretanto, um poder normativo eminentemente técnico. As Agências Reguladoras brasileiras têm, entre vários objetivos, controlar e fiscalizar serviços essenciais terceirizados pelo Estado à iniciativa privada. Saúde, telecomunicações, exploração do petróleo etc. são apenas poucos exemplos e ilustrações de serviços que, terceirizados a Sociedades privadas, precisam ser, além de controlados e fiscalizados, também, tecnicamente regulados e normatizados. Entretanto, é imperioso ressaltar: do ponto de vista regulatório e normativo, a tecnicidade institucional deve ser respeitada e atendida. Normas técnicas não somente podem, mas também devem advir das Agências Reguladoras brasileiras, de modo a ordenar e proporcionar o melhor andamento das funções exercidas por variados setores empresariais no país. Mas, se por um lado tal lógica deve ser buscada e sempre mais consolidada, por outro, não se pode deixar que Agências Reguladoras extrapolem seu poder normativo técnico e passem a agir como se legisladoras fossem, em substituição à figura do próprio Poder Legislativo. Foi o ocorrido, no entender aqui exalado, quando da criação, pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), da Resolução Normativa nº 433, de 28 de junho de 2018. Por ela, em resumo, estabeleceu-se que todos os novos Planos de Saúde comercializados pelas respectivas Operadoras de Planos de Saúde brasileiras, poderiam ter a exigência de coparticipação (uma espécie de franquia a ser paga) do beneficiário final em montante equivalente a até 40% (quarenta por cento) do valor de procedimentos médicos, tais como consultas e exames. Como tal norma representa uma significativa mudança na relação entre beneficiário/consumidor e Operadora de Plano de Saúde, sem nenhuma base legal prévia, máxime contidas na Lei 9.656/98 e no Código de Defesa do Consumidor, entre outras legislações que poderiam ser aqui citadas, entende-se ser de manifesta inconstitucionalidade. E foi o também entendido por Ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) ao deferir pleito de ordem liminar (medida cautelar) em Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF), proposta pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (CFOAB), mais precisamente, na ADPF nº 532/DF. Pela Decisão monocrática (ADPF 532 MC / DF), de validade temporária, no âmbito da cúpula do Poder Judiciário brasileiro e no exercício do controle concentrado de constitucionalidade, foi suspensa a Resolução Normativa sob foco até o julgamento final sobre se descumpre ou não preceito fundamental. Tratou-se de Decisão aqui reputada correta, principalmente se levadas em conta as razões acima expostas. Um “ato normativo secundário” (expressão utilizada no próprio Processo da ADPF) e não primário, como uma lei, esta não deve substituir. O que se espera do Poder Judiciário, em tempos de tanto ativismo judicial é, exatamente, que seja este evitado também fora das fronteiras jurisdicionais, como quando uma Agência Reguladora, parte integrante do Poder Executivo, decide legislar ao invés de mera, simples, mas tão relevantemente, tecnicamente regular. B, L.